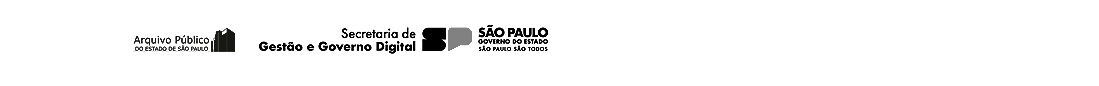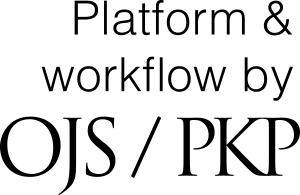Camadas de ausência e a produção de sentido através do cinema de arquivo
Palavras-chave:
documentário, fotogenia, imagem digital, arquivo audiovisualResumo
Propomos a noção de camadas de ausência para lidar com a constância das lacunas no embate com as imagens de arquivo. A partir do curta Passeio público, feito com restos do filme A cidade do Rio de Janeiro (1924), de Alberto Botelho, exploramos momentos de ausência – de imagens, de informações, de dados históricos – de modo a revertê-los em produção de sentido. Entendemos a lacuna como elemento que não para de se modificar, que nunca se esgota no trabalho de montagem com imagens do passado. A noção de fotogenia (Jean Epstein) norteou o processo de montagem do curta e a reflexão aqui apresentada sobre a natureza e a história das imagens sobreviventes. Este processo prático-teórico só foi possível devido à acessibilidade e à maleabilidade do arquivo digital.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Declaração de Direito Autoral
Os autores são os detentores dos direitos autorais dos manuscritos submetidos, sendo autorizado à Revista do Arquivo a publicação do referido texto. Os dados, conceitos e opiniões apresentados nos trabalhos, bem como a exatidão das referências documentais e bibliográficas, são de inteira responsabilidade dos autores.
Este obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.