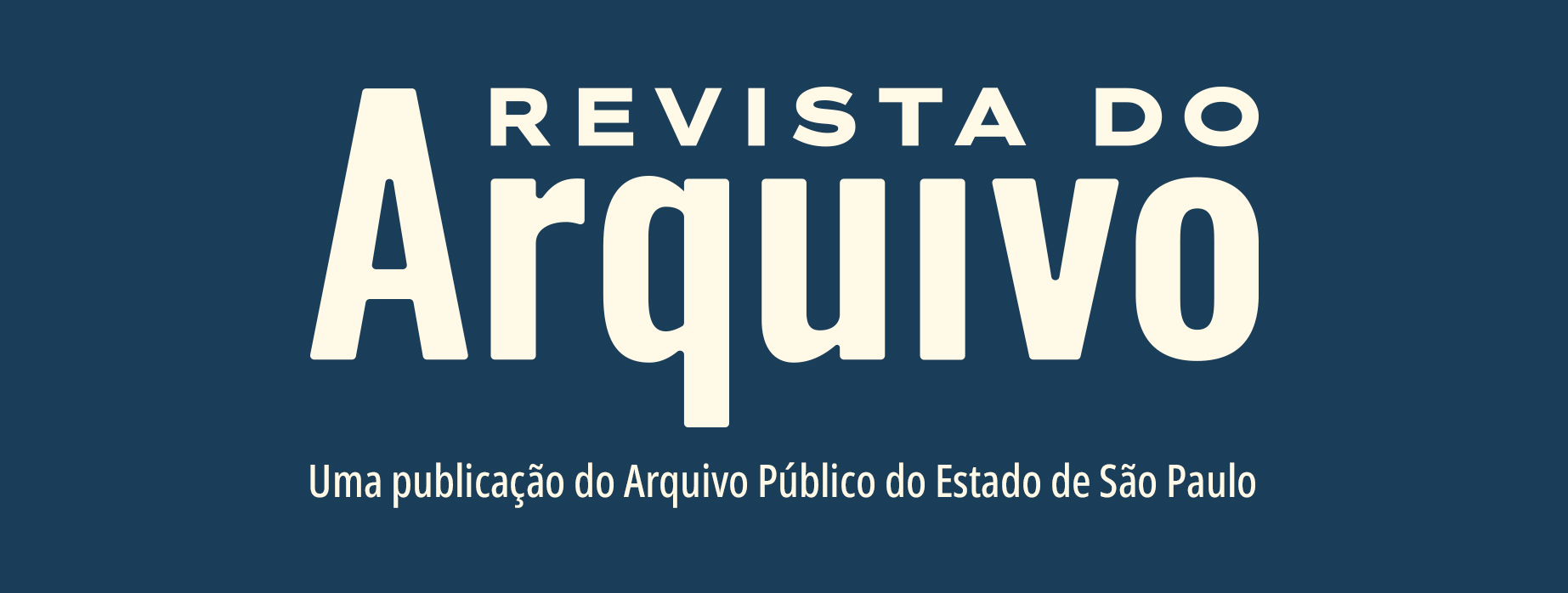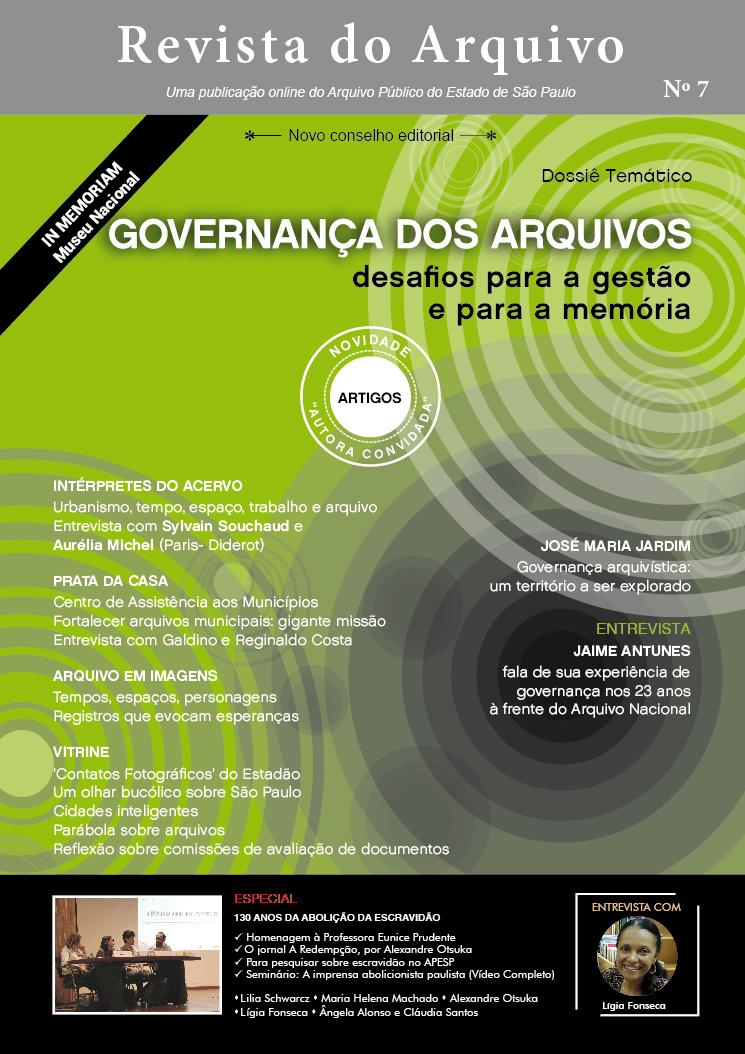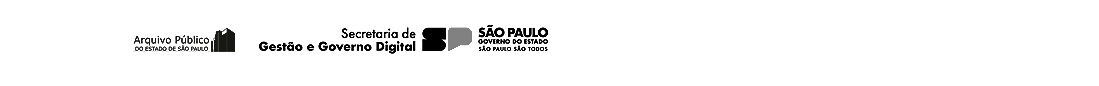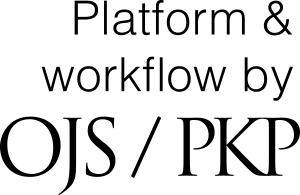Uma reflexão sobre os limites da Gestão de Documentos na governança dos arquivos públicos
Palavras-chave:
gestão de documentos, governança, gestão arquivística, racionalidade substantivaResumo
O artigo busca reavaliar a conceituação usual sobre a Gestão de Documentos, como parte integrante do que deve ser a boa governança da instituição arquivística. Para analisá-la, lança mão da teoria das organizações do sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos, que sustenta a tese da existência de duas racionalidades nas organizações, a funcional e a substantiva. Sugere-se, primeiramente, que a atuação das instituições arquivísticas, mais próxima da racionalidade substantiva, estará em permanente tensão com as dinâmicas de gestão documental de arquivos correntes, que tende para a racionalidade funcional. Sugere-se também pensar por meio da noção de Gestão Arquivística, o conjunto de práticas diferenciado no interior da Gestão de Documentos e específico da governança das instituições arquivísticas, cuja finalidade é a formação, proteção e acessibilidade de patrimônios arquivísticos.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Declaração de Direito Autoral
Os autores são os detentores dos direitos autorais dos manuscritos submetidos, sendo autorizado à Revista do Arquivo a publicação do referido texto. Os dados, conceitos e opiniões apresentados nos trabalhos, bem como a exatidão das referências documentais e bibliográficas, são de inteira responsabilidade dos autores.
Este obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.