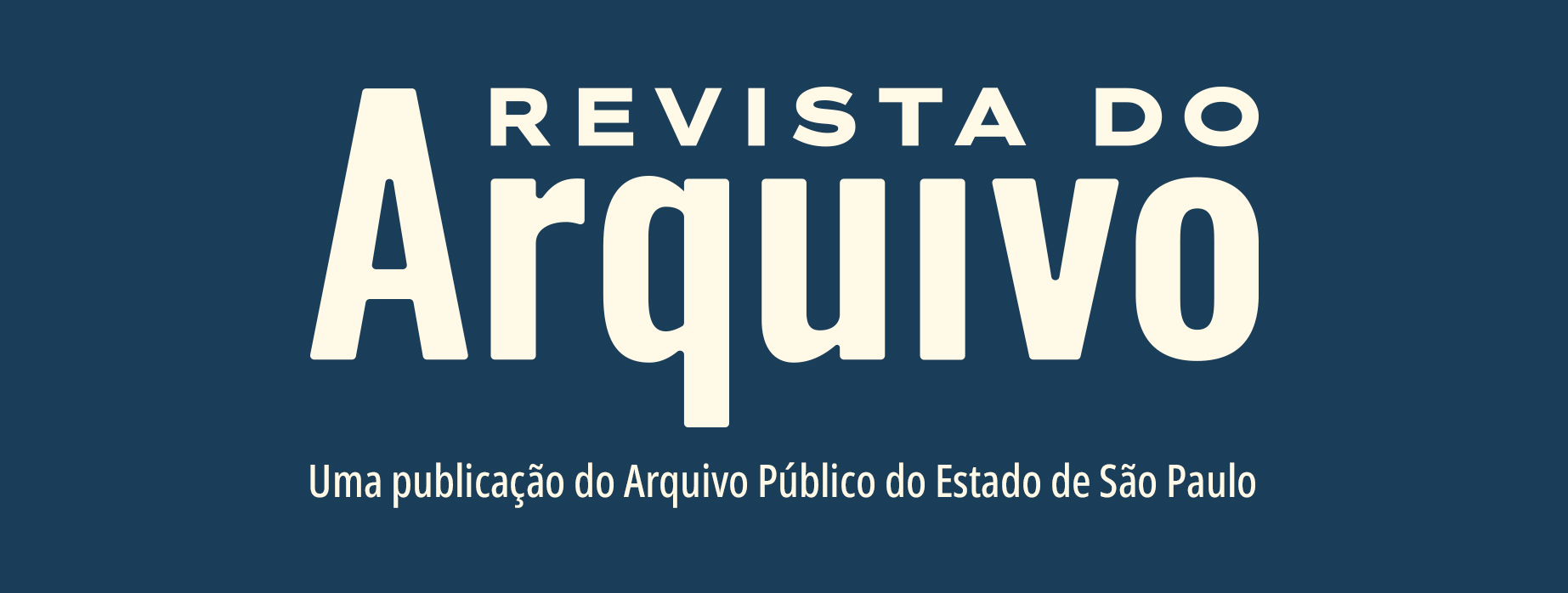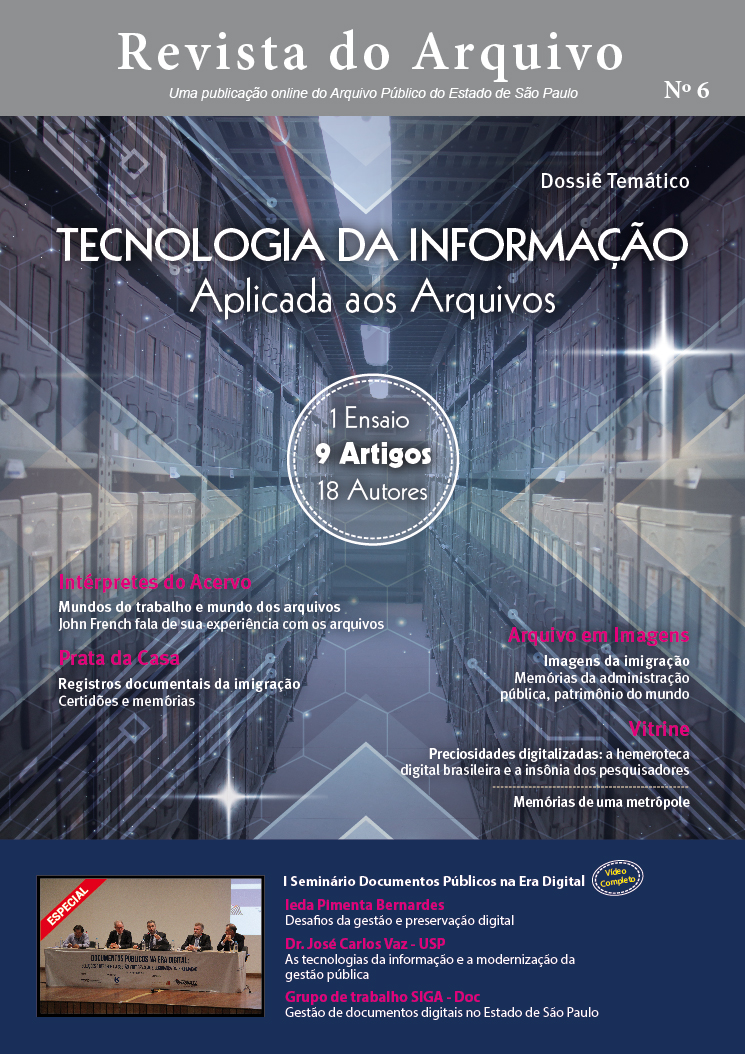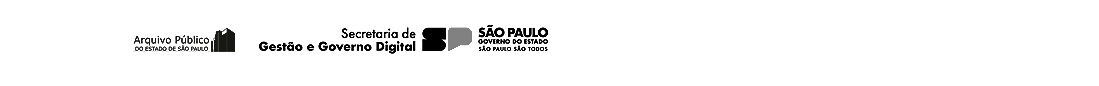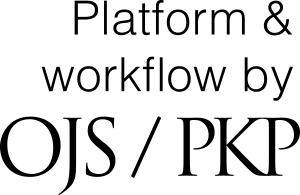Perspectivas da preservação da memória digital brasileira a partir da experiência do Arquivo Nacional
Palavras-chave:
preservação digital, documento arquivístico digital, repositório arquivístico digital confiável, Arquivo NacionalResumo
O presente artigo tem por objetivo problematizar a preservação de documentos arquivísticos com o advento da tecnologia digital, revisitar conceitos fundamentais para a preservação digital, apresentar as iniciativas do Arquivo Nacional brasileiro no desenvolvimento de condições de infraestrutura organizacional e tecnológica capazes de preservar e dar acesso aos documentos digitais recolhidos em cumprimento às suas atribuições, especialmente no que diz respeito à adoção do Archivematica, repositório arquivístico digital confiável de código aberto e livre, para a manutenção de objetos digitais a longo prazo.
Publicado originalmente em ACTAS DEL XII CONGRESO DE ARCHIVOLOGÍA DEL MERCOSUR, tomo II, p. 65-79, pela Red de Archiveros graduados de Córdoba, 2017.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Declaração de Direito Autoral
Os autores são os detentores dos direitos autorais dos manuscritos submetidos, sendo autorizado à Revista do Arquivo a publicação do referido texto. Os dados, conceitos e opiniões apresentados nos trabalhos, bem como a exatidão das referências documentais e bibliográficas, são de inteira responsabilidade dos autores.
Este obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.