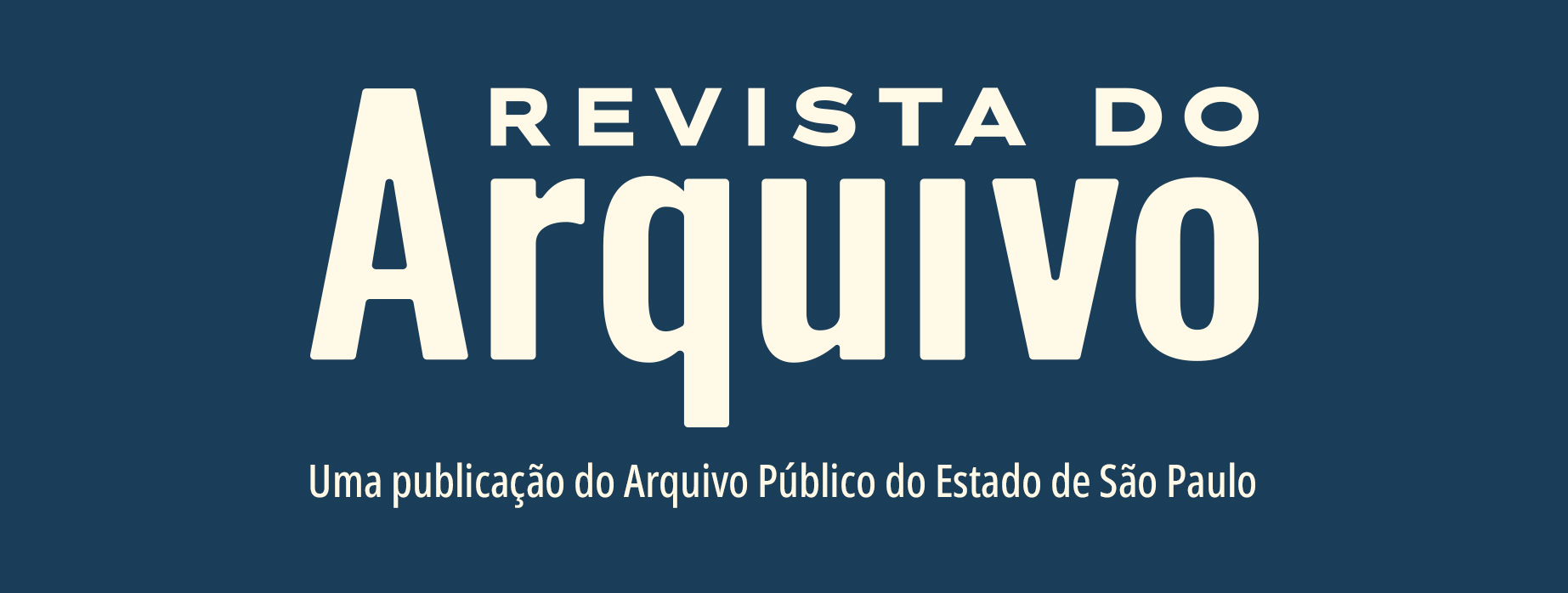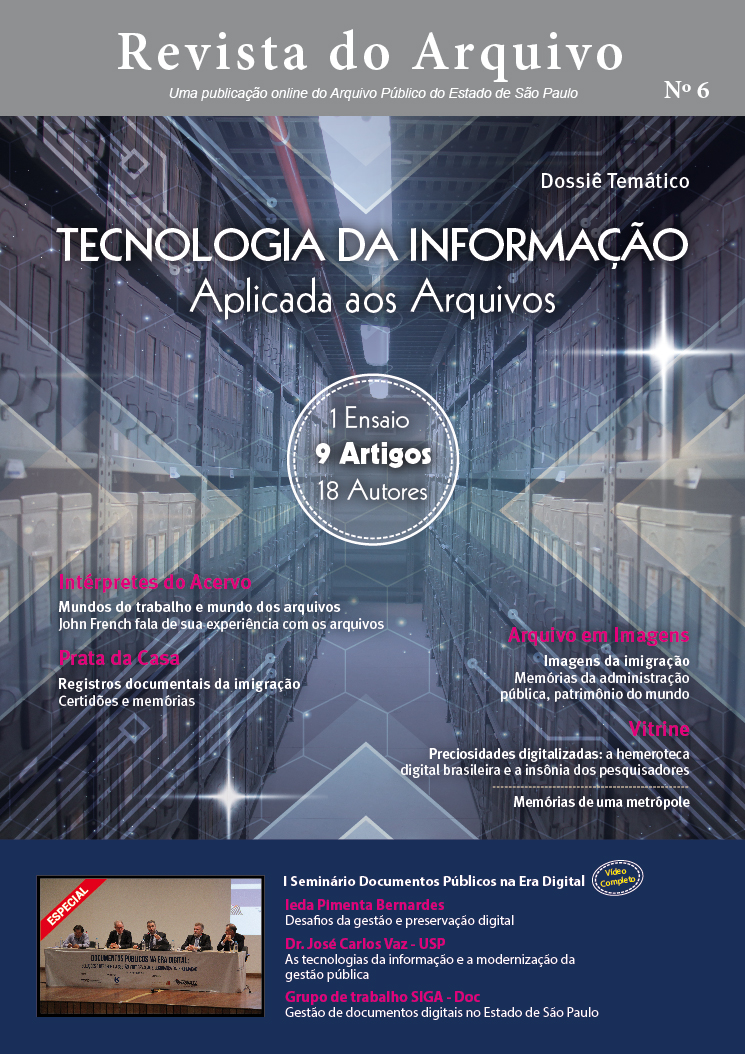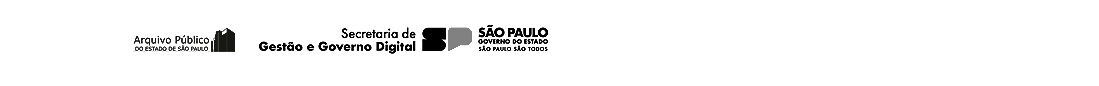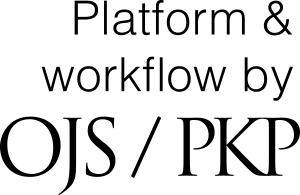Documentos arquivísticos digitais
Um descompasso entre a teoria e a prática no Brasil
Palavras-chave:
documentos digitais, prática arquivística, nomeação de documentos, qualificação profissional, cultura organizacionalResumo
Os documentos digitais são uma realidade que tem se mostrado cada vez mais presente na teoria e na prática arquivísticas brasileiras, seja em debates em eventos da área seja no dia a dia das instituições e na normatização e legislação promulgadas pelo Estado. Todavia percebe-se um descompasso entre os modelos teóricos criados em estudos acadêmicos e a implantação efetiva dessas teorias por meio de projetos cujo escopo seja o tratamento dos documentos digitais no viés da Arquivística. Esse estudo visa identificar, discutir e, em alguns casos, propor estratégias de enfrentamento de várias das questões que envolvem esse tema tão caro aos arquivistas na sociedade da informação.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Declaração de Direito Autoral
Os autores são os detentores dos direitos autorais dos manuscritos submetidos, sendo autorizado à Revista do Arquivo a publicação do referido texto. Os dados, conceitos e opiniões apresentados nos trabalhos, bem como a exatidão das referências documentais e bibliográficas, são de inteira responsabilidade dos autores.
Este obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.